
Escritos em geral - Filosofia, Ética e Filosofia Política, Direito, Jornalismo e Literatura. Material de aula e devaneios. Não hesite em visitar, criticar, comentar e divulgar. FOTO - Uma das praias da Província de Okinawa, no Japão.

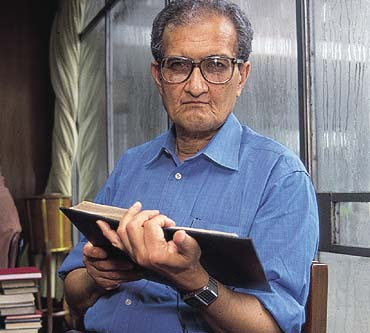





Prof. Ms. Roger Moko Yabiku
O utilitarismo é uma doutrina que se originou na Inglaterra, tendo como principais autores Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873). Aliás, Bentham foi o mestre de Stuart Mill, que lançou as bases da democracia liberal. Também conhecido como moralismo britânico ou pensamento radical, liberalismo clássico ou positivismo inglês, o utilitarismo influencia o pensamento ético-filosófico, econômico e jurídico por pelo menos dois séculos. De acordo com Luis Alberto Peluso (p. 202), foi a primeira escola filosófica, em sentido estrito, que se originou no mundo de fala inglesa. Essa doutrina é muito atual e seus argumentos são utilizados frequentemente nos processos decisórios, seja no âmbito particular, militar ou político, justamente por se enfocar mais nas consequências. Trata-se de uma teoria ética consequencialista, na qual se definem anteriormente os bens a serem atingidos ou protegidos. E o Direito seria o meio de consegui-los. Uma curiosidade. Essa doutrina também inspirou, quiçá, programas contemporâneos de entretenimento, na linha dos reality shows, como o famigerado “Big Brother”. Qualquer semelhança com o Panopticon de Bentham poderá não ser mera semelhança.
Bentham: revolucionário e conservador
Bentham nasceu em Londres, um dos seis filhos de um advogado de renome e corretor de imóveis. Quando tinha 12 anos, entrou no Queen’s College, em Oxford, sagrando-se bacharel em Humanidades em 1763. Estudou numa das escolas de Direito de Londres (Inn’s of Court), a Lincoln’s Inn, mas voltou a Oxford, para estudar com Sir William Blackstone, a quem criticou severamente pela sua teoria dos Direitos Naturais, a qual, para Bentham, era irracional. Seguiu a tradição empirista de John Locke e de David Hume. Não quis advogar, pois decepcionou-se com a maneira como era conduzida a prática da profissão naquela época.
Em 1766, tornou-se mestre em Humanidades e retornou para Londres. Era um reformador político e inventor. Em suas aulas, Peluso atribui a invenção de um protótipo incipiente de geladeira a Bentham. Apesar dos avanços “radicais”, Bentham também era um conservador. Tinha preocupação em preservar a sociedade inglesa do furor que ocorreu na França e nos Estados Unidos, a revolução.
Escreveu vários livros como “Fragmento sobre o governo” e “Introdução aos princípios da moral e da legislação”. Bentham criou a palavra “deontologia”, ou seja, o conjunto de princípios morais e legais aplicados às atividades profissionais. A expressão Direito Internacional também é uma criação atribuída a Bentham, antes utilizava-se o termo “Direito das Gentes”.
Tornou-se uma pessoa influente e seu grupo ajudou a fundar a Universidade de Londres. Morreu aos 84 anos, em 1832. Seu cadáver foi embalsamado e disposto na Universidade de Londres (ver foto). Toda vez que o colegiado se agrega, o cadáver de Bentham participa da reunião.
O princípio da utilidade
Para Wayne Morrison (p. 222), o utilitarismo de Bentham foi uma tentativa de se criar uma ciência objetiva da sociedade e da política. Pensava-se em se livrar do subjetivismo, tal como da influência religiosa e dos acidentes históricos. Interesse e razão se combinavam e o ponto arquimediano (de equilíbrio) estaria na própria natureza: o princípio da utilidade.
O francês Helvetius escreveu que o homem é governado pelo prazer e pela dor. Essa foi a base do livro “Introdução aos princípios da moral e da legislação”. Escreveu Bentham: “A natureza colocou a humanidade sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Só a eles compete indicar o que devemos fazer, assim como determinar o que faremos. A seu trono estão atrelados, por um lado, o critério que diferencia o certo do errado, e, por outro, a cadeia das causas e dos efeitos.”
O ser humano busca o prazer e foge da dor. E este seria o embasamento para uma filosofia jurídica crítica e também como modelo para o legislador hábil controlar e dirigir o comportamento social. “Nesse sentido, ele defendeu a idéia de que o princípio que rege tanto as ações individuais quanto as sociais é: ‘a busca da felicidade para o maior número de pessoas’. Esse princípio da utilidade daria consistência a uma Ética capaz de produzir o melhor dos indivíduos e a melhor das coletividades. Portanto, a busca do prazer pela fuga da dor é o princípio motivador da ação humana, tanto individual quanto coletiva. Disso decorria uma Ética para indivíduos racionais, capazes de buscar seus próprios interesses, amantes da vida. Enfim, uma Ética com todos os ingredientes da visão Iluminista do mundo que teria caracterizado os séculos XVII e XVIII”, assinala Peluso (p. 13-14).
Peluso descreve os princípios (P) e as regras (R) morais do utilitarismo de Bentham (p. 24-25):
“I – Princípio da Utilidade:
P1. Todo ser humano busca sempre maior prazer possível.
R1. Busque sempre o maior prazer e fuja da dor.
II – Princípio da Identidade de Interesses:
P2. O fim da ação humana é a maior felicidade de todos aqueles cujos interesses estão em jogo. Obrigação e interesse estão ligados por princípio.
R2. Aja de forma que sua ação possa ser modelo para os outros.
III – Princípio da Economia dos Prazeres:
P3. A utilidade das coisas é mensurável e a descoberta da ação apropriada para cada situação é uma questão de aritimética moral.
R3. Faça o cálculo dos prazeres e das dores e defina o bem em termos genéricos.
IV – Princípio das Variáveis Concorrentes:
P4. O cálculo moral depende da identificação do valor aritmético de sete variáveis: Intensidade/Duração/Certeza/Proximidade/Fecundidade/Pureza/Extensão.
R4. Procure maximizar a objetividade e a exatidão de suas avaliações morais.
V – Princípio da Comiseração:
P5. O sofrimento é sempre um mal. Ele só e admissível para evitar um sofrimento maior.
R5. Alivie o sofrimento alheio.
VI – Princípio da Assimetria:
P6. Prazer e dor possuem valores assimétricos, pois a eliminação da dor sempre agrega prazer.
R6. Escolha sempre a ação que resulta na maior quantidade de prazer, agregando o prazer da eliminação de sofrimento.”
O papel do Direito
Para Bentham, ética, moral e Direito eram a mesma coisa. Pretendia iniciar uma nova ciência do Direito, tal como reformar a sociedade, tornando-a moderna e disciplinada. “Contrariamente aos juristas mais destacados desse período, Bentham defendeu a idéia de que as leis são revogáveis e aperfeiçoáveis”, salienta Peluso (p. 19).
Porém, a medida também era conservadora: “Bentham sempre temeu as revoluções que, em seu tempo, viu varrer o continente europeu e as Américas. A ordem e a segurança eram preocupações centrais, assim como era crucial poder contar com essa previsibilidade da interação e da certeza do resultado. O comércio exige um sistema jurídico que faça cumprir as promessas e assegure as expectativas legítimas”, narra Morrison (p. 225). Também frisa Peluso (p. 209): “Educação e disciplina social são as duas pilastras que garantem a sociedade e a civilização. A sociedade é um sistema de recompensas e punições, e a tarefa do governo consiste em garantir a estrutura para a implementação das punições e as condições para que os indivíduos possam desfrutar das recompensas que se seguem de seus próprios esforços.”
O Direito, então – para Bentham -, assume importância de destaque. O legislativo só deve elaborar e aprovar leis segundo o princípio da utilidade. As leis devem ser produzidas para aumentar a felicidade do maior número de pessoas. As leis poderiam ser principais (se dirigidas aos cidadãos), ou subsidiárias (para as autoridades fazerem cumprir as primeiras). “Contudo, o utilitarismo não se esgota nessa Ética do sucesso. Ele também transforma em motivo ético o fracasso. Pois que, em seu projeto, se o princípio da ação humana é a busca do prazer e a eliminação da dor, ele estabelece um vínculo causal entre o prazer do agente individual e o sofrimento que possa, de alguma forma, estar associado à sua ação. Assim, o agente moral é responsável pela eliminação de todas as formas de sofrimento identificadas na convivência social. A eliminação do sofrimento alheio se torna motivo da ação moral de cada um”, comenta Peluso (p. 14).
A verdadeira função do Direito seria disciplinar as pessoas, como ensina Peluso (p. 209): “Nesse sentido a educação e a disciplina social são ingredientes indispensáveis para o funcionamento da sociedade. Pessoas sem educação frequentemente buscam a oportunidade de se aproveitar das recompensas devidas a outros, ou ainda procedem sem levar em consideração os verdadeiros efeitos, em termos de prazer e de dor, de sua conduta pessoal.”
Houve também especial atenção às sanções e punições, já que o prazer e a dor atribuem verdadeiros valores aos atos e também são causas eficientes do comportamento, explica Morrison (p. 227). Paul Smith complementa: “Para Bentham, portanto, a utilidade (prazer ou felicidade) define o benefício. Essa concepção é usada para determinar o que é Direito. Bentham propõe o princípio da utilidade ou da maior felicidade. Esse é o princípio que ‘aprova ou não toda ação’ de acordo com sua tendência de ‘aumentar ou diminuir’ a felicidade. Aplica-se a toda ação, apenas às dos indivíduos, mas também as do governo.”
Comenta Smith (p. 162) que, de acordo com Bentham, os elementos essenciais e a estrutura do utilitarismo seriam a concepção do benefício como prazer ou felicidade (utilidade) e o Direito seria simplesmente algo para aumentar essa felicidade. A ação correta seria aquela que atendesse melhor aos desígnios da utilidade, a maior felicidade ou o prazer para o maior número possível de pessoas. “Fica evidente que, na formulação de Bentham, a interpretação do princípio de utilidade implica a coincidência entre o prazer particular e o bem público. Nesse sentido, a felicidade alheia é desejada porque está associada com a própria felicidade do sujeito moral”, explica Peluso (p. 18). Morrison (p. 229) complementa: “O direito objetiva aumentar a felicidade total da sociedade ao desestimular os atos que possam gerar más consequências. Um ato criminoso ou ilegal representam, por definição, uma prática claramente prejudicial à felicidade do corpo social; somente um ato que, de alguma forma específica, inflija na prática algum tipo de dor – diminuindo, assim, o prazer de um indivíduo ou grupo específico – deve ser objeto da preocupação do Direito.”
As sanções como força vinculatória
Justifica-se, assim, que os direitos de uma minoria sejam sacrificados em nome dos direitos de uma maioria. Porém, isso não é tão simples. É preciso saber calcular o prazer e a dor. As sanções dão força vinculatória a uma regra de conduta ou lei, explica Morrison (p. 227), e são, no total, de quatro tipos: físicas, públicas, morais ou religiosas. Seriam as sanções ameaças de dor. “Na vida pública, o legislador entende que os homens se sentem ligados a certos atos somente quando estes têm uma sanção clara a eles associados, e tal sanção consiste em alguma forma de dor se o tipo de conduta determinado pelo legislador for infringido pelo cidadão. Portanto, a principal preocupação do legislador é decidir que formas de comportamento tenderão a aumentar a felicidade da sociedade, e quais sanções serão mais passíveis de produzir essa maior felicidade. (...) Além disso, Bentham adotou a posição de que, sobretudo na esfera social em que o direito opera, a lei só pode punir aqueles que realmente infligiram sofrimento, qualquer que seja seu motivo, ainda que se admitam algumas exceções”, assevera Morrison (p. 228).
A teoria da punição proposta pelo utilitarismo é simples e mais capaz de atingir seus objetivos. Porém, considerava Bentham que a punição é um mal em si, pois acarreta em sofrimento e dor. Só se utiliza a punição, então, no intuito de punir um mal maior. Deve ela ser útil para que, ao final se tenha mais prazer e felicidade. Desta feita, não se trata de retaliação ou de vingança pura. “A punição não deveria ser infligida (i) quando for infundada; por exemplo, quando ineficaz, no sentido de não ser capaz de impedir um ato prejudicial; (ii) quando for ineficaz, no sentido de não ser capaz de impedir um ato prejudicial; por exemplo, quando uma lei criada depois do ato for retroativa, ou ex post facto, ou quando uma lei já existe mas não foi publicada. A punição também seria ineficaz quando estivessem envolvidos uma criança, um louco ou um bêbado, ainda que Bentham admitisse que nem a infância nem a intoxicação eram bases suficientes para a ‘impunidade absoluta’. A punição também não deve ser infligida (iii) quando for improfícua ou excessivamente onerosa, ‘quando os danos em que resultasse fossem maiores do que aquilo cuja ocorrência impedisse’; (iv) quando for desnecessária, ‘quando o dano puder ser impedido ou interrompido sem ela, isto é, a um menor custo’, sobretudo nos casos ‘que consistem na disseminação de princípios perniciosos em matéria de dever’, uma vez que em tais casos a persuasão é mais eficaz do que a força”, diz Morrison (p. 230).
Panopticon: primórdios do ‘Big Brother’
No programa de televisão “Big Brother”, todos os participantes são vigiados a todo momento por câmeras de televisão. Essa sensação de ser observado a todo momento não é novidade. Esse mecanismo que utilizar o olhar alheio como meio de se coibir comportamentos foi concebido por Bentham. Ele concebeu um tipo de prédio com uma arquitetura singular e o denominou de Panopticon. Nesse imóvel, as pessoas confinadas seriam vigiadas constantemente, para condicionar o comportamento humano. Esse modelo poderia ser aplicado às prisões, porém, seria aberto ao público, que, durante as visitações, examinaria a arquitetura e manteria a vigilância sobre os reclusos. O francês Michel Foucault, no livro “Vigiar e Punir”, escreveu um capítulo específico sobre o Panopticon. Vale a pena conferir e comparar com o “Big Brother”.
Leia mais:
MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito – dos gregos ao pós-modernismo. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
PELUSO, Luis Alberto. Ética e Utilitarismo. Campinas: Alinea, 1998.
SMITH, Paul. Filosofia Moral e Política – liberdade, direitos, igualdade e justiça social. São Paulo: Madras, 2009.



